Paradiplomacia da paz: as cidades como protagonistas de um multilateralismo renovado
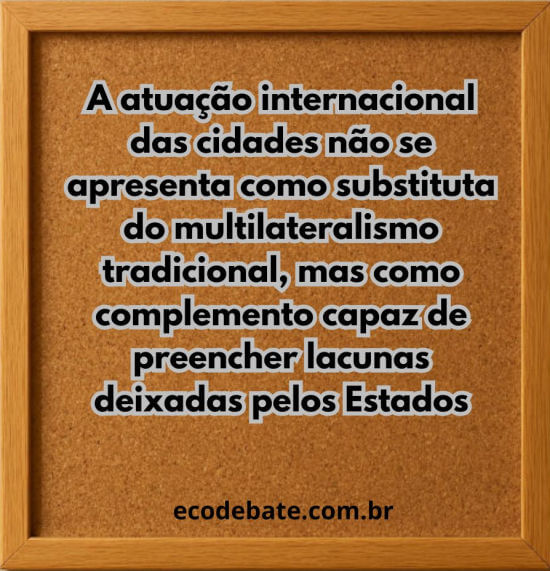
A diplomacia das cidades constitui uma nova fronteira das relações internacionais, caracterizada por flexibilidade, pragmatismo e inovação
Reinaldo Dias
Articulista do EcoDebate, é Doutor em Ciências Sociais -Unicamp
Pesquisador associado do CPDI do IBRACHINA/IBRAWORK
Parque Tecnológico da Unicamp – Campinas – Brasil
http://lattes.cnpq.br/5937396816014363
reinaldias@gmail.com
A paz deixou de ser uma promessa distante negociada em salas fechadas entre potências e passou a ser disputada nas ruas, nos territórios e nas cidades que sentem todos os dias os efeitos da violência, dos deslocamentos forçados e da destruição de direitos.
Quando as instituições multilaterais falham e governos nacionais recuam diante de crises humanitárias, são os governos locais, as redes comunitárias e os movimentos sociais que constroem, na prática, caminhos de solidariedade, acolhimento e cooperação. É nesse terreno concreto onde as vidas são protegidas ou abandonadas que a paradiplomacia emerge como uma ferramenta transformadora, uma forma de diplomacia próxima das pessoas, capaz de ampliar vínculos internacionais e renovar o próprio sentido do multilateralismo.
Entender a paz a partir das cidades significa reconhecer que ela nasce de atos cotidianos de responsabilidade pública e de coragem política, e que cabe a cada um defender e ampliar esses espaços de cooperação antes que o autoritarismo e a violência ocupem o seu lugar.
1. Introdução
Nos últimos anos, o cenário internacional tem experimentado uma combinação preocupante de crises humanitárias, conflitos armados, tensões geopolíticas e retrocessos institucionais que desafiam a capacidade das instituições multilaterais de oferecer respostas eficazes. Guerras prolongadas, deslocamentos forçados, escalada armamentista e violações sistemáticas de direitos humanos revelam que os mecanismos tradicionais de governança global enfrentam limitações significativas para promover estabilidade e prevenir conflitos. A crise do multilateralismo reflete a dificuldade crescente dos Estados nacionais de articular soluções cooperativas em um ambiente marcado pelo uso continuado da violência nas disputas por poder.
Diante desse quadro, ganha força a atuação internacional das cidades, regiões e governos subnacionais, um fenômeno que desloca o eixo da ação diplomática para novas escalas e propõe um horizonte de reconstrução de vínculos pela via local. Assim a paz deixa de ser apenas um ideal abstrato ou o simples resultado da ausência de guerra e se converte em um processo social e político permanente, enraizado nas comunidades e nas práticas cotidianas de cooperação.
Nesse contexto, o conceito de paradiplomacia ganha relevância. Ele designa a participação de governos subnacionais, como cidades, províncias e estados federados, na esfera internacional, com o objetivo de promover interesses econômicos, culturais e ambientais e, cada vez mais, contribuir para a estabilidade e o entendimento global. A paradiplomacia resulta da descentralização da política externa e do reconhecimento de que os desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas, a migração e a segurança urbana, dependem de articulações que transcendem o Estado-nação (Tavares, 2016).
Essa atuação não se limita à dimensão técnica ou econômica, pois expressa também uma transformação ética e política na forma como o poder é exercido e compartilhado. Ao estabelecer vínculos diretos com contrapartes estrangeiras, integrar redes de cooperação internacional e promover intercâmbios culturais, as cidades passam a desempenhar funções diplomáticas orientadas por valores de solidariedade, confiança mútua e construção de paz. Nessa perspectiva, a paradiplomacia se afirma como um instrumento de paz descentralizada, em que a ação local se projeta no cenário global (Dias, 2025).
A expansão dessa diplomacia subnacional está intimamente ligada à reconfiguração do sistema internacional nas últimas décadas. A globalização intensificou as interdependências econômicas, tecnológicas e comunicacionais, mas também acentuou desigualdades e fragmentações políticas que desafiam a coesão global. Enquanto o Estado-nação enfrenta restrições para responder com agilidade e sensibilidade aos problemas que atravessam fronteiras, as cidades demonstram maior capacidade de agir de forma direta e cooperativa.
A diplomacia das cidades constitui uma nova fronteira das relações internacionais, caracterizada por flexibilidade, pragmatismo e inovação (Leffel,2021). Nesse processo pode ser identificada a formação de redes urbanas internacionais, espaços de articulação política e aprendizado mútuo que ampliam a capacidade dos governos locais de influenciar políticas globais. A paradiplomacia consolida-se, assim, como um fenômeno de dupla característica, pois ao mesmo tempo em que amplia o campo da ação internacional, redefine os fundamentos da diplomacia ao aproximá-la da sociedade e das dinâmicas territoriais locais (Balbim, 2021).
2. A crise do multilateralismo e a emergência internacional das cidades
A ordem internacional contemporânea enfrenta uma crise profunda de coordenação e legitimidade. A paralisia do Conselho de Segurança da ONU em conflitos recentes, as dificuldades para garantir cessar-fogo duradouros e as divisões entre grandes potências evidenciam fragilidades estruturais que comprometem a capacidade de prevenção e resolução de crises. A diplomacia tradicional, fortemente centrada nos Estados, encontra limites para lidar com problemas que exigem respostas rápidas, territorialmente situadas e cooperativas.
Essa crise se manifesta de diversas maneiras. De um lado, a incapacidade de organismos internacionais de mediar conflitos como os da Ucrânia ou de Gaza mostra que interesses estratégicos frequentemente se sobrepõem à proteção de civis, revelando a distância entre normas de segurança coletiva e a ação efetiva. De outro, práticas unilaterais de uso da força — incluindo bombardeios preventivos, operações policiais de alta letalidade ou ações militares sem transparência — demonstram a erosão de princípios fundamentais do direito internacional e da segurança humana. No Brasil, a operação policial que resultou em 121 mortes no Rio de Janeiro, em 2025, exemplifica como políticas de segurança baseadas no uso extremo da força tensionam direitos fundamentais e ampliam a desconfiança institucional. Em escala global, ataques militares realizados com justificativas pouco verificáveis, como os realizados pelos Estados Unidos no Caribe, reforçam a percepção de que a força está se tornando recurso recorrente em detrimento da mediação diplomática.
Diante desse cenário, as cidades assumem crescente protagonismo internacional. Esse movimento não se limita a ações emergenciais, mas se relaciona com transformações estruturais do sistema internacional. Primeiro, porque muitos dos impactos das crises — conflitos, desastres ambientais, fluxos migratórios e tensões sociais — se materializam no nível local, exigindo respostas diretas por parte dos governos municipais. Segundo, porque as cidades se tornaram pontos centrais de inovação institucional, articulando redes transnacionais capazes de compartilhar conhecimentos, mobilizar recursos e desenvolver projetos cooperativos em áreas estratégicas. Terceiro, porque a proximidade com as populações confere aos governos locais uma legitimidade social que instituições internacionais e governos centrais nem sempre conseguem mobilizar.
A paradiplomacia amplia horizontes de ação ao permitir que cidades estabeleçam vínculos diretos com contrapartes estrangeiras, participem de organizações internacionais, promovam intercâmbios e desenvolvam acordos de cooperação orientados a valores como solidariedade, confiança mútua e promoção da paz (Dias, 2025; Musch & Sizoo, 2008). Nesse sentido, a atuação internacional das cidades não se apresenta como substituta do multilateralismo tradicional, mas como complemento capaz de preencher lacunas deixadas pelos Estados e de construir soluções mais adaptadas às realidades territoriais.
Além disso, o fortalecimento da paradiplomacia também reflete mudanças sociopolíticas mais amplas. Em um cenário caracterizado por disputas geopolíticas e pela crescente polarização, a cooperação internacional promovida por cidades revela formas alternativas de interação baseadas em princípios éticos e responsabilidades compartilhadas. A proximidade com os cidadãos e a escala territorial da administração municipal favorecem abordagens mais pragmáticas e menos ideológicas, permitindo que iniciativas transnacionais avancem mesmo quando negociações interestatais se encontram estagnadas. Assim, a emergência internacional das cidades representa não apenas uma adaptação funcional, mas uma mudança qualitativa no modo como a cooperação e a construção da paz, podem ser concebidas.
3. O legado pacifista das cidades: das cidades-irmãs às redes globais de paz
A atuação internacional das cidades em favor da paz possui raízes profundas no século XX. Ainda durante a segunda guerra mundial, a relação entre Coventry, no Reino Unido e Stalingrado, na antiga União Soviética é considerada um dos símbolos inaugurais da nova diplomacia local que se expandiu pela Europa e América do Norte (Laucht e Allberson, 2024). Após a devastação da Segunda Guerra Mundial, diversos governos locais começaram a estabelecer relações diretas entre si com o objetivo de reconstruir vínculos sociais, culturais e econômicos que haviam sido rompidos pelo conflito (Zelinsky, 1991).
Nesse contexto surgiu o fenômeno das cidades-irmãs (sister-cities), também conhecido como geminação de cidades (Twinning), uma prática de cooperação municipal transnacional voltada à reconstrução de vínculos sociais e culturais entre povos. No pós-guerra, as chamadas cidades-irmãs simbolizaram o esforço de reatar laços rompidos pelo conflito e de promover uma reconciliação duradoura entre populações que estiveram em lados opostos. Governos locais e associações civis passaram a atuar como mediadores da reconciliação, promovendo intercâmbios culturais e parcerias educativas. A geminação entre Coventry, no Reino Unido, e Kiel, na Alemanha, firmada em 1947, exemplifica esse impulso. Duas cidades devastadas pela guerra comprometeram-se a trocar estudantes, reconstruir espaços públicos e cultivar relações humanas que superassem a lógica da vingança (Laucht et al, 2024; Zelinsky, 1991).
O movimento das cidades-irmãs pode ser compreendido como parte de um primeiro grande ciclo de internacionalização municipal, no qual as cidades se tornaram agentes de cooperação e reconciliação após o conflito mundial (Balbim, 2021).Ao favorecer contatos diretos entre populações anteriormente inimigas, as cidades-irmãs projetaram uma visão de paz que ultrapassava o sentido estritamente negativo (ausência de guerra) e se aproximava do conceito de paz positiva, baseado em cooperação, confiança e fortalecimento de redes sociais transnacionais (Galtung, 1969). Embora circunscrito à Europa no pós-guerra, esse modelo se expandiu rapidamente, chegando aos Estados Unidos, ao Japão e, posteriormente, à América Latina, onde se articulou tanto com ações culturais quanto com iniciativas humanitárias e de desenvolvimento local. O movimento consolidou a percepção de que a diplomacia pode ser conduzida de maneira complementar às relações interestatais, com impactos significativos na construção de convivência pacífica entre sociedades.
As iniciativas de cidades-irmãs entre os Estados Unidos e a União Soviética, desenvolvidas durante a Guerra Fria, representaram uma continuidade do ideal pacifista que marcou o pós-guerra. Mesmo em meio à rivalidade ideológica, essas parcerias municipais possibilitaram trocas culturais e educacionais que ajudaram a reconstruir a confiança entre povos de nações adversárias. Essa experiência consolidou as bases de uma diplomacia cidadã duradoura, em que o diálogo entre comunidades substitui a lógica da hostilidade entre Estados (Nord, 2025).
Outra experiência de grande relevância na relação entre cidades e promoção da paz foi a criação da iniciativa Mayors for Peace,em 1982, uma rede fundada em Hiroshima e que hoje reúne milhares de cidades comprometidas com o desarmamento nuclear e a prevenção de conflitos armados. Partindo da experiência singular da cidade, um símbolo mundial da devastação causada pelo armamento atômico, a iniciativa mobiliza governos locais em torno de campanhas de sensibilização, educação para a paz e pressão política sobre organismos internacionais. Ao transformar sua própria memória histórica em plataforma de diplomacia local, Hiroshima demonstra como cidades podem desempenhar papel normativo no debate internacional, contribuindo para pautas que tradicionalmente são tratadas por Estados e instituições multilaterais (Miyazaki, 2021; Mayors for Peace, 2025).
Além disso, diversas cidades passaram a desenvolver ações específicas de acolhimento a refugiados, migrantes e defensores de direitos humanos perseguidos. Programas municipais de abrigo, integração social, ensino de idiomas, acesso a serviços públicos e proteção a jornalistas e ativistas têm se expandido na Europa, na América Latina e na América do Norte, refletindo a percepção de que a paz depende também da capacidade de oferecer segurança e dignidade às populações deslocadas por guerras ou crises políticas. Em países europeus e mediterrâneos, municípios como Palermo, Barcelona e Atenas declararam-se refúgios para defensores de direitos humanos e jornalistas perseguidos, em articulação com a Rede Internacional de Cidades de Refúgio (International Cities of Refuge Network – ICORN) e ilustram como a cooperação descentralizada pode criar mecanismos de proteção complementar à diplomacia tradicional, ampliando a capacidade global de resposta a violações de direitos fundamentais (Baeumler, Shah e Biau, 2017).
Cidades que foram palco de conflitos, como Medellín, Sarajevo ou Kigali, transformaram-se em laboratórios de reconciliação e inovação social. Outras, que jamais vivenciaram a guerra, atuam solidariamente em campanhas humanitárias e programas de cooperação Sul-Sul. Esse conjunto de experiências confirma que a diplomacia das cidades é, antes de tudo, uma pedagogia política que ensina que a paz pode ser aprendida, praticada e institucionalizada a partir do local. Ao promover trocas horizontais e aproximar culturas, as cidades demonstram que a diplomacia, longe de ser monopólio dos Estados, é uma competência social compartilhada, uma arte de convivência construída a partir do território, das memórias e das pessoas (Tavares, 2016).
4. A paradiplomacia como instrumento de paz em tempos de conflitos contemporâneos
Se as iniciativas históricas demonstram a vocação das cidades para a promoção da paz, os conflitos contemporâneos evidenciam a importância crescente da paradiplomacia como instrumento de resposta humanitária e cooperação internacional. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, desencadeou uma série de ações coordenadas entre cidades europeias e ucranianas que se tornaram fundamentais para a continuidade de serviços básicos, o apoio ao deslocamento de civis e a reconstrução de infraestruturas essenciais. Diversas municipalidades estabeleceram acordos diretos de cooperação, enviaram equipamentos, ofereceram suporte logístico e criaram corredores humanitários integrados às ações de organizações internacionais. Esse tipo de articulação, que envolve desde grandes capitais até cidades de médio porte, mostra como a paradiplomacia amplia a capacidade de resposta em contextos onde o multilateralismo tradicional encontra dificuldades operacionais ou políticas (Matiasczyk, 2024).
A atual guerra em Gaza produziu uma crise humanitária de grandes proporções, com destruição de infraestrutura essencial, deslocamentos forçados e escassez de água, alimentos e abrigo. Diante desse quadro, diversas cidades europeias manifestaram solidariedade à população palestina em práticas que refletem a paradiplomacia pela paz. Governos locais como Lyon, Bordeaux, Oslo, Helsinque e Barcelona destinaram recursos emergenciais para organizações humanitárias, entre elas a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA da sigla em inglês) e Médicos Sem Fronteiras. Outras cidades, como Ghent, Pesaro e Bolonha, incorporaram princípios éticos às compras públicas ao evitarem fornecedores associados à ocupação. Em capitais como Roma, Lyon e Bruxelas, gestos simbólicos, como o hasteamento de bandeiras da paz e resoluções por cessar-fogo, reforçaram a dimensão normativa dessas ações municipais, em sintonia com posicionamentos registrados em redes urbanas europeias no período recente (Eurocities, 2025).
A paradiplomacia também é visível em regiões marcadas por conflitos de baixa intensidade, criminalidade organizada ou tensões fronteiriças. Na América Latina, cidades como Medellín têm desenvolvido políticas urbanas reconhecidas internacionalmente por sua capacidade de reduzir violência armada, ampliar oportunidades econômicas e promover inclusão social. Essa experiência transformadora ultrapassou as fronteiras colombianas e deu origem a uma cooperação internacional contínua que projetou Medellín como referência global em políticas de segurança cidadã. A cidade passou a compartilhar sua metodologia de prevenção da violência com municípios da África do Sul, do México e de El Salvador, articulando ações de planejamento urbano, mobilidade integrada e desenvolvimento comunitário que inspiraram programas locais de redução de homicídios e fortalecimento do tecido social. Esse intercâmbio consolidou um modelo de cooperação Sul-Sul no qual soluções criadas em territórios historicamente marcados pela violência se convertem em instrumentos diplomáticos capazes de promover paz urbana e inclusão social em diferentes contextos.
Esses programas, baseados em infraestrutura pública, mobilidade integrada e desenvolvimento comunitário, passaram a ser objeto de intercâmbio internacional, influenciando outras cidades que enfrentam desafios semelhantes. A cooperação técnica entre cidades latino-americanas, assim como a atuação conjunta de municípios na Tríplice Fronteira, reforça como estratégias locais podem contribuir para construir ambientes urbanos mais seguros e capazes de prevenir conflitos (Dias, 2025).
Experiências recentes reforçam essa dimensão cooperativa da paradiplomacia ao mostrar que cidades podem atuar de forma articulada na defesa de direitos e na prevenção de violências estruturais. Em Barcelona, o programa Ciutat Refugi consolidou uma política urbana de acolhimento que inspirou administrações em outras cidades europeias, demonstrando que iniciativas municipais podem estruturar respostas humanitárias eficazes diante da inação de governos centrais. Em Palermo, a Carta de Palermo afirmando a mobilidade como direito humano inalienável transformou a cidade em referência global contra políticas migratórias restritivas e contribuiu para articular uma agenda de cidades solidárias no Mediterrâneo e em outras regiões (Ciutat Refugi, 2025; Carta de Palermo, 2015).
Na América Latina, a iniciativa Ciudades Solidarias, promovida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), mostra como a cooperação internacional entre governos locais pode transformar o acolhimento de pessoas refugiadas e migrantes em política pública estruturada. Ao reunir dezenas de municípios em países como Argentina, Uruguai, Brasil, Chile e Guatemala, essa rede estimula a criação de centros de atendimento, programas educativos, ações culturais e mecanismos de inclusão social que ampliam o acesso a direitos em contextos urbanos. Ao reconhecer as cidades como atores centrais na proteção de populações deslocadas, a iniciativa fortalece uma diplomacia municipal que combina solidariedade, corresponsabilidade e resistência às práticas excludentes de Estados nacionais (ACNUR,2025).
No Brasil, episódios como a operação policial que resultou em mais de uma centena de mortes no Rio de Janeiro revelam limitações profundas das políticas de segurança baseadas exclusivamente no uso da força. Embora não sejam ações de política externa, tais eventos têm repercussões internacionais e influenciam debates sobre direitos humanos, governança urbana e segurança pública. O que faz a paradiplomacia é oferecer oportunidades para que cidades dialoguem com experiências estrangeiras, participem de redes internacionais de prevenção à violência e adotem modelos baseados em direitos, mediação comunitária e desenvolvimento social.
Essas iniciativas mostram que a paradiplomacia contribui para fortalecer a capacidade internacional de resposta a crises ao ampliar a diversidade de atores envolvidos na promoção da paz. As cidades não substituem Estados ou organizações multilaterais, mas complementam sua atuação, oferecendo perspectivas territoriais, mobilizando comunidades e criando soluções integradas que combinam resposta humanitária, inclusão social e cooperação transnacional.
5. Conclusão
A crescente projeção internacional das cidades revela que a construção da paz não pode mais depender exclusivamente de fórmulas diplomáticas negociadas entre Estados nem de instituições multilaterais paralisadas por disputas geopolíticas.
Em um mundo marcado por guerras prolongadas, crises humanitárias e retrocessos democráticos, a paradiplomacia emerge como um campo estratégico capaz de renovar práticas de cooperação e abrir caminhos concretos de solidariedade.
Cidades que acolhem refugiados, que protegem jornalistas e defensores de direitos humanos, que pressionam pelo desarmamento e que inovam em políticas de prevenção à violência mostram, na prática, que a paz é um processo político que começa no território e se expande por meio de redes transnacionais.
Esse protagonismo não substitui o papel dos Estados, mas evidencia suas limitações e propõe outro modo de participação internacional baseado em responsabilidade compartilhada, vínculos horizontais e defesa ativa dos direitos humanos. Ao integrar governos locais às agendas globais, o multilateralismo torna-se mais democrático, mais sensível às realidades sociais e mais capaz de responder a crises que atravessam fronteiras. Ignorar a contribuição das cidades significa renunciar a uma das poucas forças institucionais capazes de transformar a cooperação internacional em prática cotidiana.
A paz do século XXI dependerá, cada vez mais, dessa convergência entre diplomacia estatal, organizações multilaterais, sociedades civis mobilizadas e governos locais que se reconhecem como agentes legítimos de mudança.
A paradiplomacia aponta para essa direção ao demonstrar que o combate à violência, a defesa dos direitos e a promoção do diálogo não são tarefas reservadas a chancelarias distantes, mas compromissos que podem e devem ser assumidos por cidades de todas as escalas. Reconhecer essa realidade é dar um passo decisivo para construir um multilateralismo mais inclusivo e uma paz capaz de resistir aos avanços do autoritarismo e da destruição de direitos.
REFERÊNCIAS
ACNUR (2025) – https://www.acnur.org/que-hacemos/construir-un-futuro-mejor/ciudades-solidarias?
BAEUMLER, A.; SHAH, P.; BIAU, J. (2017, dec 18) Cities of Refuge: Bringing an urban lens to the forced displacement challenge. World Bank: Sustainable Cities. Disponível em: https://shre.ink/WorldBank
BALBIM, R. (2021) International City’s Networks and Diplomacy. Institute for Applied Economic Research (IPEA): Discussion Paper 25. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/publicacoes.
Carta de Palermo (2015) https://moving-cities.eu/palermo/the-charter-of-palermo-2
Ciutat Refugi (2025) https://www.ciutatrefugi.barcelona/
DIAS, R. (2025) Perspectivas e práticas da paradiplomacia: influência local, impacto global. Belo Horizonte: Editora D’Plácido.
EUROCITIES (2025,out 10). European cities turn solidarity into action. Disponível em: https://eurocities.eu/latest/european-cities-turn-solidarity-into-action/
GALTUNG, J.(1996) Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. London: Sage Publications. Disponível em: https://shre.ink/BooksGoogle
LAUCHT, C.; ALLBESON, T.(2024) Urban internationalism: Coventry, Kiel, reconstruction and the role of cities in British–German reconciliation, 1945–1949. Urban History, v. 51, n. 4, p. 683–708. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0963926823000172
LEFFEL, B. (2021) Principles of modern city diplomacy and the expanding role of cities in foreign policy. Journal of International Affairs, v. 74, n. 1, p. 179-200. Disponível em: https://law-journals-books.vlex.com/vid/principles-of-modern-city-916367336
MATIASZCZYK, N.(2024) City Diplomacy as a Mechanism of Multi-Level Solidarity and Support for Ukraine: A Study of the Changes Following the 2022 Russian Invasion. Journal of Eurasian Studies, v. 16, n. 1, p. 108-122. Disponível em: https://doi.org/10.1177/18793665241254835
MAYORS FOR PEACE (2025). About us. Disponível em: https://shre.ink/MayorsforPeace
MIYAZAKI, H. (2021) Hiroshima and Nagasaki as models of city diplomacy. Sustainability Science, v. 16, p. 1215–1228. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11625-021-00968-1
MUSCH, A.; SIZOO, A. (2008) City diplomacy: the role of local governments in conflict prevention, peace-building, post-conflict reconstruction. The Hague: VNG International. Disponível em: https://shre.ink/Hague
NORD, D. C.(2025) Sister City Diplomacy: Community Engagement in US–Russian Relations from the Cold War to Today. University of Wisconsin Press. Disponível em: https://shre.ink/Nord
TAVARES, R. (2016) Paradiplomacy: cities and states as global players. Oxford: Oxford University Press.
ZELINSKY, W. (1991) The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective. Annals of the Association of American Geographers, v. 81, n. 1, p. 1-31, 1991. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1991.tb01676.x
in EcoDebate, ISSN 2446-9394
[ Se você gostou desse artigo, deixe um comentário. Além disso, compartilhe esse post em suas redes sociais, assim você ajuda a socializar a informação socioambiental ]