A transição que exclui: conflitos sociais e o desafio de uma mudança energética justa
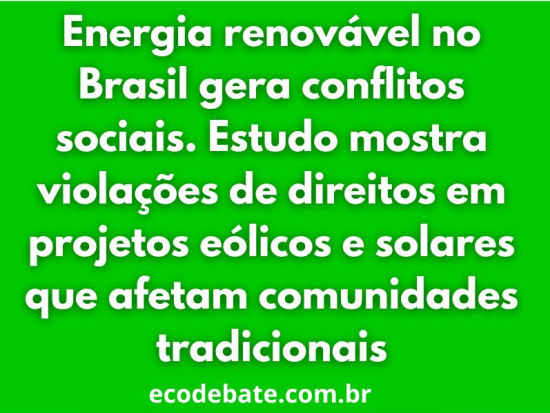
Comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas denunciam contratos abusivos, falta de consulta e criminalização em projetos de energia eólica e solar apresentados como sustentáveis
Energia renovável no Brasil gera conflitos sociais. Estudo mostra violações de direitos em projetos eólicos e solares que afetam comunidades tradicionais.
Reinaldo Dias
Articulista do EcoDebate, é Doutor em Ciências Sociais -Unicamp
Pesquisador associado do CPDI do IBRACHINA/IBRAWORK
Parque Tecnológico da Unicamp – Campinas – Brasil
http://lattes.cnpq.br/5937396816014363
Num mundo que corre para descarbonizar em ritmo acelerado, a transição energética tem ganhado centralidade nas agendas públicas e privadas. Fontes renováveis ocupam o centro dos discursos oficiais, embaladas por promessas de inovação verde e salvação climática. Mas por trás da estética dos cataventos e dos painéis solares, esconde-se uma engrenagem antiga: a mesma que transformou territórios em zonas de sacrifício e comunidades inteiras em obstáculos ao desenvolvimento. Em nome da sustentabilidade, avançam velhas práticas — agora reconfiguradas pela linguagem técnica, pelo capital transnacional e por instituições públicas que, muitas vezes, falham em proteger os direitos coletivos. Sob o brilho da energia limpa, multiplicam-se contratos abusivos, violações de direitos, silenciamentos e expulsões. Mecanismos jurídicos existem, mas raramente são acionados a favor dos mais vulneráveis. E o futuro verde, vendido como inevitável, segue sendo construído sobre a exclusão dos que menos poluem, mas que pagam os maiores preços.
1. O discurso dominante e a captura corporativa da transição
A transição energética tem sido apresentada por governos, empresas e organismos multilaterais como uma solução técnica e inevitável para o enfrentamento da crise climática. Nesse discurso dominante, substituem-se os combustíveis fósseis por fontes renováveis — como solar, eólica e hidrogênio verde —, e os minerais críticos tornam-se insumos estratégicos para alimentar essa mudança. No entanto, por trás da retórica do progresso verde, consolida-se um modelo de transição empresarial que não rompe com os padrões históricos de exploração de territórios, populações e bens comuns, mas os atualiza sob novas justificativas.
Uma das principais estratégias de legitimação adotadas por esse modelo é o enquadramento dos chamados “minerais da transição” — como cobre, lítio e bauxita — como indispensáveis para salvar o planeta. Essa narrativa oculta os impactos sociais e ambientais associados à sua extração, apagando as vozes que denunciam as violações nos territórios afetados. Os investimentos no setor mineral cresceram de forma acelerada na última década, impulsionados não apenas pela demanda tecnológica, mas também por um discurso político e empresarial que naturaliza a intensificação da mineração como condição para a descarbonização da economia global (Mansur et al., 2024).
Esse processo é acompanhado por uma intensa financeirização da energia renovável, que se converte em ativo para fundos de investimento, bancos multilaterais e conglomerados transnacionais. No Brasil, grandes corporações do setor eólico, como Iberdrola, Voltalia e Enel, dominam o mercado, atuando com alto poder de barganha e baixa regulação social. Os contratos de arrendamento firmados com pequenos agricultores são frequentemente abusivos, longos e opacos, favorecendo a apropriação de vastos territórios sem necessidade de compra, o que permite às empresas explorar o vento e a terra com baixo custo e alto lucro (Gimenes, 2022).
A ausência de legislação específica e a obsolescência dos marcos legais existentes — como o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 1964) e o decreto 59.566 de dezembro de 1966 — contribuem para esse cenário. As empresas atuam em zonas de vazio jurídico, utilizando cláusulas de confidencialidade, atravessadores e pressão econômica para garantir a assinatura de contratos em comunidades fragilizadas (Gimenes, 2022). Nesses contextos, o discurso da sustentabilidade funciona como uma cortina de fumaça que esconde as assimetrias de poder e o caráter predatório da ocupação territorial.
O uso intensivo de termos como “energia limpa”, “verde” ou “renovável” também opera como instrumento simbólico de despolitização. Como observa João Paulo do Vale, diretor do documentário Vento do Agreste, “não é a energia eólica, mas o modelo” — um modelo que imita a lógica do latifúndio e da violência, sem respeitar os modos de vida das comunidades do campo e das florestas (ClimaInfo, 2023). A estética dos cataventos, a linguagem técnica e a associação com soluções climáticas ajudam a produzir uma imagem positiva dos empreendimentos, mesmo quando estes geram destruição ambiental, desigualdade social e expulsão de populações.
Esse processo de captura corporativa da transição energética também ocorre em escala global. Marin e Palazzo (2024) mostram que, diante do aumento da demanda por minerais estratégicos, governos e empresas têm adotado políticas voltadas para garantir o suprimento desses recursos, como a Lei de Redução da Inflação dos EUA de 2022 (para o combate à inflação e as mudanças climáticas) e a Lei de Matérias-Primas Críticas da União Europeia (Lei CRM- Critical Raw Materials Act) de 2023. No entanto, os autores alertam que tais políticas raramente abordam as injustiças geradas pela extração mineral e que os mecanismos tradicionais de participação pública e responsabilidade social corporativa são insuficientes para conter os danos ou democratizar as decisões.
A combinação entre interesses empresariais, permissividade regulatória e discursos ambientalmente amigáveis forma um quadro de “transição verde de fachada”, em que os fundamentos do modelo econômico permanecem intocados. Ao invés de questionar os padrões de produção e consumo que alimentam a crise, esse modelo os reconfigura para adaptá-los à nova economia verde, transferindo os custos da descarbonização para os territórios e povos historicamente explorados.
2. Novos projetos, velhas violências
A retórica da transição energética costuma prometer um futuro sustentável, limpo e inclusivo. No entanto, para diversas comunidades em territórios estratégicos, a experiência concreta com projetos ditos sustentáveis tem sido marcada pela repetição de padrões históricos de exclusão, expropriação e violência. O avanço de parques eólicos no semiárido nordestino, assim como a intensificação da mineração de lítio e cobre em escala global, revela como os “novos” empreendimentos energéticos muitas vezes reproduzem os mesmos mecanismos predatórios e autoritários do passado (Gimenes, 2022; Bega, 2025).
Em regiões como o semiárido nordestino e o Vale do Jequitinhonha, a instalação de projetos energéticos se deu sem consulta livre, prévia e informada, ferindo convenções internacionais e legislações nacionais. Contratos de arrendamento com cláusulas abusivas, ausência de mediação adequada e imposição de empreendimentos sem estudo dos impactos socioculturais tornaram-se práticas comuns. O resultado tem sido o enfraquecimento das formas tradicionais de uso da terra, a perda de autonomia das comunidades e o rompimento dos vínculos territoriais que sustentavam modos de vida camponeses e tradicionais (Gimenes, 2022; Caramel, 2022).
No Brasil, comunidades camponesas e tradicionais enfrentam os impactos diretos da instalação de aerogeradores em seus territórios. A presença desses equipamentos, muitas vezes a poucos metros das casas, tem gerado efeitos deletérios à saúde e ao bem-estar da população. Barulhos constantes, insônia, depressão, crises de ansiedade e uso de medicamentos em crianças foram relatados por moradores de Caetés (PE), conforme relatado por morador, que vive com um aerogerador a 160 metros de sua residência (ClimaInfo, 2023). Além dos impactos sonoros, a destruição da flora local, a morte de animais e a degradação de ecossistemas foram denunciadas em diversos pontos do Nordeste, onde as turbinas foram instaladas sem consulta adequada às populações afetadas (ClimaInfo, 2023; Caramel, 2022).
As situações de violência não se restringem ao Brasil. Em escala global, dados do Instituto de Estudos de Desenvolvimento (IDS – Institute of Development Studies) revelaram mais de 36 mil eventos de conflito relacionados à mineração entre 2015 e 2022, envolvendo mais de 4.200 locais ao redor do mundo (Bega, 2025). A resistência à mineração, especialmente de minerais críticos como lítio, cobre e níquel — essenciais para a produção de baterias e equipamentos de energia renovável — não se limita a países pobres ou instituições frágeis. Segundo os pesquisadores, o fator determinante não é o nível de renda, mas sim a presença dos depósitos minerais. (Bega, 2025).
Esses dados confirmam que o modelo de expansão energética baseado na apropriação de territórios e na desconsideração dos modos de vida locais tem sido um vetor de instabilidade. Como alerta o estudo, a continuidade desse padrão pode não apenas inviabilizar projetos específicos, mas desencadear movimentos regionais de oposição à mineração e à própria transição energética, minando sua legitimidade democrática (Bega, 2025).
No interior da Bahia, por exemplo, famílias que vivem da agricultura de base agroecológica denunciam o assédio contínuo de empresas eólicas, que impõem contratos desequilibrados, de longa duração e com cláusulas opacas (Caramel, 2022). Em muitos casos, os arrendamentos comprometem o uso coletivo das terras e restringem práticas fundamentais como o pastoreio, o cultivo e o acesso a recursos hídricos. As denúncias se estendem à destruição de cisternas, à perda de vegetação nativa e ao abandono de obras inconclusas, como no caso do parque Casa Nova I, da Chesf, que deixou 30 turbinas abandonadas e gerou insegurança e violência na região (Caramel, 2022; Gimenes, 2022).
Na Chapada Diamantina (BA), a instalação de parques eólicos e solares tem gerado conflitos com comunidades tradicionais. A região concentra 43% dos empreendimentos renováveis da Bahia, mas a implantação ocorre sem consulta prévia, sem estudos de impacto e com desmatamento, afetando ecossistemas e espécies ameaçadas. Quilombolas e comunidades de fecho de pasto relatam perda de áreas produtivas, secamento de nascentes, doenças e impactos psicológicos. A empresa norueguesa Statkraft é alvo de protestos e ação do Ministério Público, que suspendeu o desmatamento do Complexo Solar Santa Eugênia, que é o maior da empresa fora da Europa. Moradores denunciam a degradação ambiental, a pressão sobre modos de vida e o descaso com propostas alternativas que evitariam impactos, como o uso de áreas já desmatadas. Apesar de apoiarem as energias renováveis, criticam a forma predatória de implantação, que beneficia empresas e desconsidera os direitos e o território das comunidades locais, tornando a transição energética um novo vetor de desigualdade e injustiça socioambiental (Oliveira, 2025)
Em diferentes regiões do Nordeste, atravessadores contratados por empresas têm convencido agricultores a assinar contratos com cláusulas abusivas e confidenciais. Com negociações individuais, evitam sindicatos ou associações, impedindo o debate coletivo. Os contratos impõem sigilo, multas desproporcionais e prazos longos, restringindo o uso da terra. Muitos relatam promessas de renda que não se cumprem e perda de autonomia, resultando em abandono da atividade produtiva e migração para áreas urbanas. Essa forma de deslocamento compulsório, sem violência direta, tem sido descrita por comunidades afetadas como uma “expulsão silenciosa”, que enfraquece os modos de vida tradicionais e reforça a desigualdade nos territórios (Damasceno, 2024; INESC, 2023).
A violência não se limita à esfera local. De 2020 a 2023, o Brasil registrou 348 ocorrências de conflito envolvendo minerais da transição energética, afetando mais de 100 mil pessoas em 249 localidades, com maior incidência na Amazônia Legal, Pará e Minas Gerais (Mansur et al., 2024). Segundo dados atualizados por Vick (2024), os conflitos envolveram 34 comunidades indígenas, 30 quilombolas, 27 ribeirinhas e 13 de fundo de pasto, com destaque para litígios relacionados à extração de lítio, cobre, níquel e bauxita.
As denúncias de perseguição a comunidades e lideranças locais vêm se acumulando no Brasil. O relatório da Swedwatch (2025) documenta casos de criminalização e hostilidade contra defensores costeiros e populações tradicionais afetadas por empreendimentos de energia renovável. No Ceará, a comunidade quilombola do Cumbe sofreu a imposição do projeto eólico Bons Ventos sem qualquer consulta. As consequências foram profundas: fragmentação comunitária, desvalorização do território, pressões econômicas e processos judiciais contra lideranças locais. A criminalização de pescadores e quilombolas tem se intensificado, sendo o Brasil um dos países com maior número de defensores ambientais sob ameaça em projetos ditos sustentáveis. O caso do Cumbe, infelizmente, não é exceção, mas reflexo de uma lógica em que os impactos recaem sistematicamente sobre os mais vulneráveis.
No plano internacional, dados do projeto GDELT (da sigla em inglês do Banco de Dados Global de Eventos, Linguagem e Tom) indicam mais de 36 mil conflitos relacionados à mineração em 4.293 locais do mundo — uma cifra seis vezes superior às estimativas anteriores (Marin & Palazzo, 2024). Esses dados revelam que os impactos da mineração associada à transição energética não são episódios isolados, mas parte de um padrão estrutural de violação sistemática de direitos, que reproduz desigualdades e impõe enormes custos sociais à busca por uma economia de baixo carbono.
3. O apagamento dos direitos e da participação
Enquanto a transição energética se consolida como novo paradigma de desenvolvimento, os mecanismos democráticos e os direitos coletivos são, em muitos casos, sistematicamente desconsiderados. Em vez de processos participativos e inclusivos, a implementação de muitos dos grandes projetos de energia e mineração se dá por meio de contratos unilaterais, ausência de consulta livre, prévia e informada, repressão de protestos e esvaziamento dos canais de deliberação popular. A pressa em “descarbonizar” tem servido como justificativa para acelerar licenças, flexibilizar normas e silenciar as comunidades afetadas.
Comunidades atingidas por projetos eólicos, como agricultores, indígenas e quilombolas, não são tratadas como sujeitos de direito, mas como entraves. Os contratos impostos incluem prazos de até 40 anos, cláusulas de renovação automática e compensações financeiras irrisórias. O uso de linguagem técnica e a ausência de assessoria jurídica tornam a negociação desigual. Empresas impõem sigilo e transferem os riscos aos moradores, impedindo o uso pleno da terra e perpetuando injustiças. A lógica contratual transforma a cessão de território em instrumento de captura da renda da terra, mascarada por discursos de progresso que ignoram os impactos reais sobre os modos de vida locais (Damasceno, 2024; INESC, 2023).
Como analisam Radtke e Renn (2024), os processos de planejamento e licenciamento da transição energética, mesmo quando abertos à participação pública, tendem a adotar estilos de governança que favorecem o controle tecnocrático e a formalidade ritualizada, em detrimento da deliberação substantiva. A consulta, quando ocorre, limita-se a procedimentos protocolares que não asseguram influência real das comunidades nos rumos da transição.
Os processos de consulta às comunidades, quando ocorrem, são formais e sem escuta efetiva. Empresas firmam contratos com indivíduos isolados, enfraquecendo coletivos e alimentando conflitos internos. A ausência de regulação rigorosa e a omissão de órgãos públicos facilitam práticas que desarticulam o tecido social e impõem contratos assimétricos. Esse contexto favorece a captura institucional, onde a transição energética avança à revelia dos direitos das populações afetadas, intensificando desigualdades e limitando a proteção ambiental e social dos territórios vulnerabilizados (INESC, 2023).
A repressão direta também tem se intensificado. Como documenta a Swedwatch (2025), o número de defensores ambientais criminalizados cresceu nos últimos anos, especialmente em contextos marcados por grande expansão de projetos energéticos. O Brasil figura entre os países mais perigosos do mundo para quem defende o território. O caso do Cumbe se soma a uma série de denúncias de perseguição em outras regiões, como no litoral do Piauí, no sertão da Bahia e na região amazônica, conforme também reforçado por Vick (2024).
A linguagem técnica e despolitizada, frequentemente mobilizada pelos agentes da transição empresarial, atua como forma de exclusão discursiva. Como observa o ClimaInfo (2023), expressões como “energia limpa” e “zonas de transição” são utilizadas para deslegitimar os conflitos e apresentar como inevitável o avanço dos empreendimentos, esvaziando o sentido político da resistência comunitária e encobrindo os desequilíbrios de poder.
A Convenção 169 da OIT, que garante a consulta livre, prévia e informada a povos indígenas e comunidades tradicionais, tem sido reiteradamente violada. Mesmo em áreas reconhecidas como territórios tradicionais — como fundos de pasto na Bahia ou reservas extrativistas na Amazônia —, a consulta é ignorada ou realizada de forma simbólica, com audiências controladas por empresas e ausência de processos deliberativos autônomos (Caramel, 2022). A própria noção de “população impactada” é restringida aos critérios do empreendedor, o que esvazia o princípio da autodeterminação dos povos e desloca a mediação dos conflitos para esferas tecnocráticas e judiciais.
O apagamento dos direitos também se manifesta na forma como a transição energética é apresentada nos discursos oficiais. Em vez de um processo social, ela é tratada como inevitabilidade técnica, negando espaço ao debate público sobre seus rumos, prioridades e formas de execução. O discurso da urgência climática é instrumentalizado para suspender garantias, suprimir exigências legais e avançar sobre territórios vulnerabilizados. Como destacam Paixão & Giovanaz (2024), a “corrida do lítio” no Vale do Jequitinhonha foi marcada por decisões tomadas à revelia das comunidades locais, sem estudos de impacto social, ambiental ou cultural, e com forte presença de agentes públicos e privados interessados na rápida exploração do recurso.
Essa lógica de silenciamento se estende às arenas políticas. A pressão do setor de mineração e energético sobre o Congresso Nacional, o Executivo e os órgãos ambientais tem resultado em mudanças normativas que fragilizam ainda mais os instrumentos de controle social. O Decreto 10.657/2021 permitiu o uso da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) para qualquer tipo de infraestrutura, desconectando a compensação financeira da função reparatória. A revogação do Decreto 2.413/1997. E a atuação articulada de entidades como o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a Associação Brasileira de Pesquisa Mineral (ABPM) e a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro (ADIMB), somada ao lobby internacional em eventos como a PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) no Canadá, tem influenciado diretamente as políticas públicas brasileiras, substituindo o interesse coletivo pela lógica do investimento e da competitividade internacional (Paixão & Giovanaz, 2024).
Ao desconsiderar os direitos dos mais afetados e inviabilizar sua participação efetiva nas decisões, a transição energética perde sua legitimidade. Em vez de reparar injustiças históricas, ela tende a aprofundá-las. O silenciamento dos territórios, das vozes dissidentes e dos saberes populares não é um efeito colateral, mas um componente estruturante do modelo dominante de transição. Garantir justiça social e ambiental exige, portanto, não apenas incluir os excluídos, mas reconhecer seu protagonismo, seus saberes e suas formas próprias de existir e decidir.
4. O que é uma transição justa?
A ideia de “transição energética” é frequentemente associada à substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. No entanto, limitar essa transição a uma mudança tecnológica é ignorar suas dimensões sociais, políticas e territoriais. Os conflitos analisados até aqui mostram que o atual modelo de transição — centralizado, empresarial e excludente — vem aprofundando desigualdades e promovendo novas formas de espoliação. Diante disso, torna-se urgente afirmar outra concepção de transição: uma transição energética justa, baseada em inclusão, democracia e redistribuição de poder.
A noção de “transição justa” surge da constatação de que a reestruturação das matrizes energéticas e produtivas frente à crise ambiental não pode ocorrer às custas de populações já historicamente marginalizadas. Para além de reduzir emissões de carbono, uma transição justa pressupõe a defesa dos direitos humanos, o combate às desigualdades e a inclusão efetiva dos povos e territórios afetados pelas mudanças em curso. Isso implica não apenas modificar a origem da energia, mas reavaliar profundamente o modelo de desenvolvimento, os padrões de consumo e a governança sobre recursos naturais.
Apesar de sua aparente consensualidade, a ideia de justiça na transição tem sido apropriada de formas diversas — e muitas vezes conflitantes — por governos, corporações e instituições multilaterais. Em vez de uma reestruturação transformadora, assistimos à reprodução de padrões excludentes sob a nova roupagem da economia verde. Como evidencia o relatório da Swedwatch (2025), projetos de energia renovável vêm sendo implementados sem garantias de consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas, em países com espaço cívico restrito e alta incidência de violência contra defensores ambientais — como o Brasil, Honduras, Moçambique e Filipinas.
Marin e Palazzo (2024) argumentam que os conflitos não são meras externalidades a serem geridas, mas obstáculos estruturais que colocam em xeque a própria viabilidade política da transição energética. A resistência das comunidades à mineração, por exemplo, não é uma ameaça ao progresso, mas uma forma de defender seus territórios, modos de vida e direitos fundamentais. Ignorar essas vozes, como tem sido a prática de muitas empresas e governos, apenas aprofunda a polarização social e reduz drasticamente a possibilidade de cooperação duradoura.
Para esses autores, uma transição verdadeiramente justa exige a superação das abordagens simbólicas, como os programas de responsabilidade social corporativa e as audiências públicas formais, frequentemente utilizadas para legitimar projetos já decididos. Em vez disso, propõem a instituição de estruturas de governança inclusivas, capazes de democratizar as decisões sobre investimentos, localização de empreendimentos e uso dos recursos naturais. Trata-se de garantir que as comunidades tenham voz real e vinculante, e não apenas consultiva, nos rumos da transição.
O relatório de Mansur et al. (2024) reforça esse diagnóstico ao mostrar que os maiores impactos da transição energética no Brasil recaem sobre populações historicamente vulnerabilizadas: pequenos agricultores, povos indígenas, quilombolas e trabalhadores informais. A chamada “nova geografia da destruição” revela que a economia de baixo carbono está sendo construída sobre territórios expropriados do Sul Global, alimentando um processo de reconcentração de terra, água, renda e poder. Uma transição justa, portanto, não é compatível com a continuidade de uma economia extrativista, mesmo que repaginada de verde.
Do ponto de vista prático, a justiça da transição passa por mudar o locus de decisão, fortalecer os direitos territoriais, reconhecer a centralidade dos modos de vida comunitários e garantir o acesso equitativo aos benefícios gerados. Isso inclui, por exemplo, a revisão dos contratos de arrendamento, a obrigatoriedade de consulta prévia, livre e informada, a regulamentação do uso do vento e do subsolo como bens comuns, e o apoio a iniciativas de geração descentralizada de energia, como cooperativas, consórcios regionais e projetos liderados por comunidades locais.
5. Regulação ou captura? O papel do Estado na expansão da transição empresarial
A disputa em torno da transição energética não ocorre apenas nos territórios, mas também nos marcos legais, nos instrumentos de planejamento e nas arenas de regulação estatal. Longe de serem neutros, esses espaços refletem correlações de força, interesses econômicos e dinâmicas históricas de desigualdade. Em contextos marcados por neoliberalismo e desmonte institucional, a regulação tem se tornado campo privilegiado de captura por parte de corporações atuantes nos setores energético e de mineração
Nesse contexto a atuação do Estado na transição energética brasileira tem se pautado, em larga medida, por uma lógica de facilitação do mercado em detrimento da proteção de direitos e da regulação pública. Longe de assumir um papel corretivo ou redistributivo, o Estado tem operado como agente catalisador do modelo empresarial de transição, flexibilizando normas, incentivando a financeirização dos territórios e restringindo os espaços de controle social. Trata-se de um processo que muitos analistas identificam como captura institucional, em que as estruturas estatais passam a operar segundo os interesses do setor mineral-energético, travestido de modernização e sustentabilidade.
A captura institucional ocorre quando empresas passam a influenciar diretamente a formulação de políticas públicas, normas técnicas e procedimentos administrativos que deveriam restringir seus próprios abusos. Como analisa Gimenes (2022), há um movimento sistemático de flexibilização de exigências socioambientais, redução de prazos e eliminação de etapas participativas nos processos de licenciamento. Essa tendência se expressa em propostas legislativas como o PL 2159/2021, conhecido como o “Projeto Lei da Devastação” que enfraquece o licenciamento ambiental, e em resoluções que abrem caminho para a autorregulação empresarial.
Essa captura também se dá nas agências reguladoras e nos bancos públicos de fomento. O BNDES, por exemplo, tem sido um dos principais financiadores de grandes empreendimentos eólicos e solares em regiões tradicionalmente ocupadas por comunidades vulnerabilizadas. Segundo o ClimaInfo (2023), mesmo projetos com histórico de conflitos, denúncias de violações e ausência de consulta prévia continuam recebendo financiamento público, o que evidencia a falta de critérios sociais e territoriais na concessão de apoio estatal.
A Swedwatch (2025) mostra que essa lógica não é restrita ao Brasil. A nível internacional, instituições multilaterais como o Banco Mundial, o BID e o Banco Asiático de Desenvolvimento também têm financiado projetos que violam direitos humanos em nome da transição energética. Os mecanismos de salvaguarda são frequentemente ignorados ou reinterpretados para facilitar a aprovação de iniciativas com alto potencial de conflito. Essa articulação entre capital internacional, governos nacionais e empresas privadas configura uma forma sofisticada de colonialismo verde, que desloca os custos da transição para os povos do Sul Global.
Essa captura se materializa em medidas normativas e administrativas adotadas nos últimos anos. Um exemplo emblemático é o Decreto 10.965/2022, que alterou a finalidade dos recursos da da CFEM, permitindo seu uso genérico para “infraestrutura” nos estados e municípios mineradores. Ao desvincular a compensação do dano ambiental e social causado pela mineração, o decreto esvazia a função reparadora da CFEM e converte-a em estímulo à expansão da atividade extrativa (Paixão & Giovanaz, 2024). Em vez de mitigar os impactos, o novo regramento transforma a mineração em fonte de receita indiscriminada para governos locais, incentivando-os a atrair novos empreendimentos, mesmo que à custa de seus territórios.
Outro marco importante foi a revogação do Decreto 2.413/1997, que impedia a concessão de títulos de mineração em áreas consideradas de relevante interesse estratégico nacional. A revogação, sob o argumento de “atualização normativa”, abriu caminho para que antigas reservas públicas fossem colocadas à disposição do setor privado, inclusive em regiões ambientalmente sensíveis e com presença de populações tradicionais. Paralelamente, o Decreto 10.657/2021 flexibilizou o uso de recursos da mineração para obras públicas genéricas, descolando ainda mais a exploração mineral de sua responsabilidade socioambiental.
Como analisam Radtke e Renn (2024), os planos e instrumentos regulatórios da transição energética, mesmo quando incluem mecanismos participativos, tendem a reproduzir estilos de governança que privilegiam a tecnocracia e o controle institucional, reduzindo o papel da sociedade civil à mera formalidade.
Os instrumentos de planejamento energético, são elaborados sob forte influência de empresas e consultorias técnicas, com escassa participação da sociedade civil ou de representantes de povos e comunidades tradicionais. O resultado é uma transição moldada por critérios de viabilidade econômica e retorno sobre investimento, e não por justiça socioambiental.
No discurso oficial, essa aproximação entre Estado e mercado é justificada pela necessidade de tornar o Brasil competitivo na nova economia verde. No entanto, na prática, trata-se de uma desregulamentação planejada que retira garantias legais e sociais, fragiliza os instrumentos de licenciamento e promove uma ocupação territorial autoritária. Como alerta o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, a combinação de incentivos fiscais, flexibilizações normativas e discursos ambientalmente amigáveis tem servido para legitimar uma expansão predatória, que repete os padrões históricos de exploração e exclusão, agora sob a chancela da sustentabilidade.
Além da influência direta sobre os marcos legais, há a construção de um discurso de inevitabilidade, segundo o qual a transição deve ser acelerada a qualquer custo, inclusive à revelia dos direitos. Vick (2024) chama atenção para o uso de metas climáticas e compromissos internacionais como justificativas para acelerar processos de licenciamento e neutralizar contestações locais. Trata-se de um discurso tecnocrático que confunde urgência climática com autoritarismo decisório.
Essa captura se manifesta também na atuação dos próprios órgãos de controle e licenciamento, cujas capacidades técnicas e orçamentárias foram sistematicamente reduzidas nos últimos anos. A sobreposição entre os papéis de fomento, licenciamento e fiscalização gera conflitos de interesse e abre espaço para a proliferação de projetos aprovados com baixo escrutínio técnico e social. A chamada transição energética empresarial, nesse contexto, não apenas é permitida por Instituições Públicas, mas em grande parte promovida por elas.
Ao invés de construir uma transição pautada pela justiça social, as Instituições Públicas brasileiras têm agido como facilitador de uma transição acelerada, desigual e concentradora. A urgência da crise climática é mobilizada como argumento para dispensar a consulta, ignorar os territórios e priorizar interesses estratégicos de grandes grupos econômicos, nacionais e transnacionais. Inverter esse quadro requer um reposicionamento profundo das funções públicas — da defesa do investimento para a garantia dos direitos — e o fortalecimento das instituições de controle democrático da energia e do território.
6. Conclusão
A promessa de uma transição energética como caminho para enfrentar a crise climática global tem sido amplamente mobilizada por empresas, governos e instituições multilaterais. No entanto, o modelo dominante de transição segue reproduzindo as mesmas lógicas de expropriação, desigualdade e violência que marcaram o desenvolvimento energético do século passado. Longe de representar uma ruptura, o avanço das energias renováveis e da mineração verde, em muitos casos, aprofunda a injustiça territorial e social.
As populações mais impactadas seguem sendo tratadas como obstáculos a serem contornados, e não como sujeitos de direitos. A lógica tecnocrática e empresarial da transição promove o esvaziamento da participação, a criminalização da resistência e a flexibilização de normas que deveriam proteger os mais vulneráveis. Os povos tradicionais são tratados como obstáculo ao progresso e os saberes comunitários como irrelevantes diante das métricas técnicas do mercado. A exclusão das comunidades dos processos decisórios, o desmonte de instrumentos de participação, a criminalização das resistências e a captura da regulação estatal revelam que a disputa pela transição é, antes de tudo, uma disputa por modelos de sociedade.
Não há sustentabilidade, com justiça climática e social, se os mesmos padrões de desigualdade forem mantidos sob novas bandeiras. A transição energética precisa ser radicalmente repensada: não como mera substituição de fontes, mas como transformação profunda das relações entre energia, território e poder. Mais do que acelerar a transição, é preciso redefini-la. E isso só será possível se for conduzida com os sujeitos historicamente excluídos — no campo, na floresta, nas periferias e nos ambientes de trabalho precarizados. A transição energética que precisamos é aquela que rompe com as estruturas que sustentaram o colapso socioambiental. Tudo o que não se move nessa direção é continuidade disfarçada de mudança.
Referências
Bega, Sheree (2025, mar 31) Global mining conflicts surge, posing threat to clean energy transition. Mail & Guardian-The Green Guardian. https://mg.co.za/the-green-guardian/2025-03-31-global-mining-conflicts-surge-posing-threat-to-clean-energy-transition/
Caramel, L. (2022, nov 16) Energia eólica avança sobrepondo-se a territórios de comunidades. Dialogue Earth. https://dialogue.earth/pt-br/nao-categorizado/60621-energia-limpa-avanca-pela-bahia-sobrepondo-se-a-territorios-de-comunidades-tradicionais/
ClimaInfo (2023, abr 11) Afetados por parques eólicos relatam impactos na saúde e no meio ambiente. https://shre.ink/xbgt
Damasceno, B. (2024, jun 05) Eólicas pagam mal e têm contratos abusivos contra pequenos agricultores no Ceará, mostra estudo. Diário do Nordeste. https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/bruna-damasceno/eolicas-pagam-mal-e-tem-contratos-abusivos-contra-pequenos-agricultores-no-ceara-mostra-estudo-1.351930757
Gimenes, E.(2022, ago 01) Nem limpa, nem sustentável. Usinas eólicas exploram agricultores familiares e territórios tradicionais para gerar lucro. Intercept-Brasil.
https://shre.ink/xbgm
INESC-Instituto de Estudos Socioeconômicos (2023) Aspectos jurídicos da relação contratual entre empresas e comunidades do Nordeste Brasileiro para a geração de energia renovável: o caso da energia eólica. Relatório Técnico. https://inesc.org.br/wp-content/uploads/2023/10/inesc-estudo-contratos_assentamentos-v3.pdf?x69356
Mansur, M. S., Wanderley, L. J., & Fraga, D. J. N. (2024). Transição Desigual: as violações da extração dos minerais para a transição energética no Brasil. Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. Brasil. https://www.researchgate.net/publication/382967831
Marin, A. and Palazzo, G. (2024) Civic Power in Just Transitions: Blocking the Way or Transforming the Future?, IDS Working Paper 614, Brighton: Institute of Development Studies, DOI: 10.19088/IDS.2024.045
Mendes, E. D., & de Almeida Collaço, F. M. (2024). Justiça Distributiva em Conflitos de Energia Eólica: Análise de Decisões Judiciais sobre Impactos de Parques no Ceará. Direito Público, 21(111). DOI: 10.11117/rdp.v21i111.7940
Oliveira, G.(2025) Energia limpa sim, mas não assim’: comunidade resiste a parque solar que desmatou caatinga na BA. Folha de São Paulo. https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2025/06/energia-limpa-sim-mas-nao-assim-comunidade-resiste-a-parque-solar-que-desmatou-caatinga-na-ba.shtml
Paixão, F e Giovanaz, D. (2024, abr 09) Aumento da demanda global por minerais estratégicos deve intensificar pesquisas e gerar mais pressão sobre os territórios. Comite Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. http://emdefesadosterritorios.org/reportagem-alem-da-euforia-verde-a-corrida-e-o-lobby-pela-extracao-de-minerios-de-transicao-energetica-no-brasil/
Radtke, J., & Renn, O. (2024). Participation in energy transitions: a comparison of policy styles. Energy Research & Social Science, 118, 103743.
Swedwatch (2025, apr 25) Renewable energy and reprisals. Report#103. https://www.mynewsdesk.com/swedwatch/documents/renewables-and-reprisals-final-250425-punkt-pdf-448568
Vick, M.(2024, ago 12) Como a transição energética gera conflitos no Brasil. Nexo Jornal. https://www.nexojornal.com.br/expresso/2024/08/12/transicao-energetica-impacto-meio-ambiente-e-direitos-humanos
in EcoDebate, ISSN 2446-9394
[ Se você gostou desse artigo, deixe um comentário. Além disso, compartilhe esse post em suas redes sociais, assim você ajuda a socializar a informação socioambiental ]