Rewilding: reconstruindo ecossistemas e relações com a vida selvagem
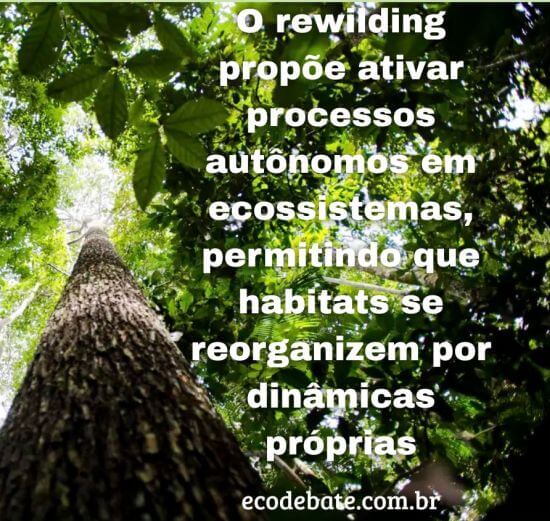
O rewilding convida a imaginar alternativas sustentáveis, ancoradas tanto na ciência quanto na responsabilidade ecológica. É sobre isso que trata o presente artigo
Reinaldo Dias
Articulista do EcoDebate, é Doutor em Ciências Sociais -Unicamp
Pesquisador associado do CPDI do IBRACHINA/IBRAWORK
Parque Tecnológico da Unicamp – Campinas – Brasil
http://lattes.cnpq.br/5937396816014363
reinaldias@gmail.com
Em um momento em que a ciência anuncia a possível “desextinção” do lobo-terrível — espécie desaparecida há cerca de 12 mil anos —, por meio de manipulação genética de lobos-cinzentos (Matos & Carvalho, 2025), reacende-se o debate sobre os limites e as possibilidades da intervenção humana na natureza. A notícia, amplamente divulgada, gerou tanto entusiasmo quanto perplexidade, especialmente diante das implicações éticas, ecológicas e até biomédicas que cercam os avanços da engenharia genômica.
Nesse cenário, torna-se oportuno voltar o olhar para o rewilding (termo que pode ser traduzido como “renaturalização” ou “reconversão selvagem), uma proposta que, embora menos espetacular aos olhos do público, é igualmente ousada: restaurar ecossistemas por meio da reintrodução de espécies-chave, da recuperação de interações ecológicas perdidas e, sim, em alguns casos, até mesmo da desextinção. Ao contrário de abordagens puramente simbólicas ou tecnocêntricas, o rewilding considera legítimo — sob critérios científicos e éticos — o uso de espécies extintas ou substitutas para ocupar nichos funcionais, reativar processos tróficos e devolver autonomia aos sistemas naturais.
A discussão coloca a ciência em evidência, não apenas no que diz respeito à conservação, mas também quanto ao uso futuro dessas mesmas ferramentas em humanos, seja para fins terapêuticos ou de modificação genética. Entre o fascínio pela reengenharia da vida e o compromisso com a restauração da biodiversidade, o rewilding convida a imaginar alternativas sustentáveis, ancoradas tanto na ciência quanto na responsabilidade ecológica. É sobre isso que trata o presente artigo
1. Introdução ao Rewilding
A perda acelerada da biodiversidade e o colapso de ecossistemas em todo o mundo têm impulsionado soluções inovadoras na conservação ambiental. Entre essas propostas, o rewilding vem ganhando destaque por sua abordagem ousada que inclui a reintrodução de espécies-chave e redução da intervenção humana para restaurar processos ecológicos fundamentais. Inspirado nos trabalhos de Soulé e Noss (1998), o rewilding parte de três pilares: a proteção de grandes áreas naturais, a reintrodução de predadores de topo e a promoção da conectividade ecológica.
Em vez de focar exclusivamente na preservação estática de espécies ou habitats, o rewilding propõe ativar processos autônomos em ecossistemas, permitindo que habitats se reorganizem por dinâmicas próprias e que os seres humanos tenham papel menos controlador. A proposta ganhou destaque por seu alinhamento com os desafios contemporâneos, como mudanças climáticas e urbanização.
Se, por um lado, representa uma ruptura criativa com modelos conservacionistas tradicionais, por outro, levanta questões éticas e sociais significativas. O debate em torno do rewilding, portanto, extrapola os limites da biologia da conservação, tocando campos como políticas públicas e justiça socioambiental. Com base nessa complexidade, o presente artigo analisa o rewilding como proposta integradora de conservação, inovação e justiça ecológica, explorando exemplos na América do Norte, Europa e América do Sul.
2. Fundamentos e evolução do conceito
O rewilding surgiu nos anos 1990 como resposta à limitação de estratégias focadas apenas na preservação de espécies carismáticas em áreas isoladas. Soulé e Noss (1998) propuseram uma abordagem baseada na reintrodução de grandes predadores e na proteção de vastas áreas interconectadas.
Desde então, o conceito se ampliou. Hoje, é compreendido como um processo voltado à restauração de processos ecológicos, à autonomia e à autorregulação dos ecossistemas, priorizando a resiliência diante das transformações do Antropoceno (Svenning et al., 2015). Ao invés de replicar paisagens do passado, o rewilding propõe ecossistemas adaptativos. Isso inclui reativar interações como predação e dispersão de sementes em ambientes profundamente alterados, inclusive com uso de espécies substitutas em locais onde as originais foram extintas, um processo onde se insere o conceito de desextinção.
Essa prática — a ecossubstituição — e propostas mais controversas como o uso de engenharia genética para recriar espécies extintas (ex. mamute-lanoso) levantam debates éticos sobre os limites da intervenção humana (Jørgensen, 2015).
Na abordagem europeia adapta-se as paisagens humanizadas, ligando rewilding à reconversão rural, ao turismo ecológico e à revalorização cultural da vida selvagem. Já nas Américas, a proposta tende à restauração mais profunda dos processos naturais. O rewilding, portanto, deve ser entendido como abordagem plural, capaz de integrar ciência, engajamento comunitário e reflexão ética.
3. Exemplo Norte-Americano: Yellowstone
A reintrodução do lobo-cinzento (Canis lupus) em Yellowstone, em 1995, é marco simbólico e ecológico do rewilding moderno. Ausente por 70 anos, o lobo foi reintroduzido como predador de topo. O impacto foi profundo: populações de alces passaram a ser controladas, permitindo regeneração de salgueiros e álamos e o retorno de castores, pássaros e outras espécies (Ripple & Beschta, 2012).
A predação dos lobos também reduziu os coiotes, permitindo aumento de roedores e de seus predadores naturais. Carcaças favoreceram necrófagos (como corvos e ursos), e a regeneração da vegetação ripária (de mata ciliar) estabilizou margens fluviais e melhorou a infiltração hídrica (Beschta & Ripple, 2016). No entanto, o projeto enfrentou resistência de pecuaristas e caçadores.
O sucesso dessa iniciativa pioneira deve-se à articulação entre ciência, compensações econômicas e diálogo com a sociedade (Nie, 2003). Yellowstone tornou-se referência global, mostrando como a reintrodução planejada de uma única espécie pode reativar processos ecológicos e gerar benefícios sistêmicos.
4. O Rewilding europeu e seus desafios
A aplicação do rewilding na Europa apresenta particularidades significativas, em grande parte devido à longa história de ocupação humana, transformação da paisagem e intensa utilização do solo. Ao contrário de áreas extensas e pouco povoadas como Yellowstone, na Europa, o rewilding precisa se adaptar a uma malha territorial fragmentada, onde os interesses agrícolas, turísticos e comunitários coexistem com as metas de conservação.
A organização Rewilding Europe, criada em 2011, é uma das principais responsáveis pela difusão dessa abordagem no continente. Ela atua em múltiplas regiões — como os Cárpatos, os Alpes italianos, os Balcãs Ocidentais e o Delta do Danúbio — promovendo a reintrodução de grandes mamíferos e o estímulo à regeneração natural. Entre os animais emblemáticos reintroduzidos estão o bisão-europeu (Bison bonasus), cavalos primitivos como o Konik e gados rústicos como o Heck, criados para simular o extinto auroque (Bos primigenius) (Navarro & Pereira, 2015).
Um exemplo expressivo de inovação dentro desse contexto é o Programa Tauros, desenvolvido pela Grazelands Rewilding em parceria com organizações como ARK Rewilding Nederland e a própria Rewilding Europe. Iniciado em 2008, o programa busca reconstituir uma espécie funcionalmente equivalente ao auroque por meio de técnicas de retrocruzamento genético entre raças antigas. O Tauros, como é chamado, encontra-se atualmente em sua sétima geração e já foi introduzido em reservas na Holanda, Espanha, Portugal, Croácia e Romênia. O Taurus, também é conhecido como Auroque 2.0, destaca-se por ser um animal moderno que funcionalmente deve ocupar o mesmo nicho ecológico do extinto Auroque (Grazelands Rewilding, 2025).
Visualmente semelhantes aos auroques originais, esses animais são adaptados às condições ecológicas modernas e desempenham um papel essencial na manutenção de habitats abertos por meio da pastagem natural. Sua presença promove a regeneração da biodiversidade, reduz o risco de incêndios e contribui para a restauração de processos ecológicos perdidos. O auroque, enquanto espécie extinta, foi um elemento-chave da paisagem semiaberta da Europa pré-moderna, moldando ecossistemas em interação com outras espécies de megafauna. A reintrodução funcional do Tauros busca recuperar essas dinâmicas em um continente cada vez mais fragmentado e sujeito ao abandono rural.
Além do rigor genético — apoiado em análises de genoma comparativo — o programa Tauros incorpora uma dimensão simbólica e cultural, ao recuperar o “rei da natureza europeia”, conectando ciência, memória histórica e inovação ecológica. Essa proposta reforça o potencial do rewilding europeu de integrar conservação da biodiversidade com desenvolvimento rural e engajamento social, mesmo diante de tensões fundiárias e questionamentos sobre a legitimidade de espécies recriadas por cruzamentos seletivos (Grazelands Rewilding, 2025).
De forma mais ampla, o rewilding europeu tem mostrado resultados promissores. Algumas populações de grandes predadores, como o lobo (Canis lupus), o urso-pardo (Ursus arctos) e o lince-euroasiático (Lynx lynx), têm se expandido naturalmente por regiões transfronteiriças, demonstrando a viabilidade de corredores ecológicos. Paralelamente, observam-se ganhos no fortalecimento de identidades locais vinculadas à biodiversidade, com comunidades se engajando em práticas de conservação e turismo regenerativo.
A experiência europeia demonstra que o rewilding, embora desafiador, pode ser um vetor de restauração ecológica e renovação cultural em paisagens densamente habitadas. Sua viabilidade depende de uma articulação cuidadosa entre conservação, governança democrática e reconhecimento dos direitos e saberes das populações locais.
5. América do Sul: lições do Projeto Iberá
Na América do Sul, o maior e mais emblemático exemplo de rewilding em curso é o Projeto Iberá, na Argentina, conduzido pela Fundación Rewilding Argentina, sucessora da Tompkins Conservation. Localizado nos estuários de Corrientes, o projeto propõe uma restauração de ecossistemas baseada na reintrodução de espécies extintas regionalmente, como a onça-pintada (Panthera onca), a anta (Tapirus terrestris), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o cervo-do-pantanal (Blastocerus dichotomus) e o cateto (Pecari tajacu).
Desde 2018, o Parque Nacional Iberá tornou-se palco de experiências pioneiras. Um centro de reprodução foi criado para a onça-pintada, e, em 2021, nasceram os primeiros filhotes em liberdade na região após mais de 70 anos. A reintrodução da onça cumpre não apenas um papel ecológico como predador de topo, mas também simbólico, associando-se à identidade cultural local e ao fortalecimento do ecoturismo (Cristaldo et al., 2023).
O projeto vai além da soltura de animais. Ele busca restaurar interações tróficas, recuperar processos de dispersão de sementes e ativar redes ecológicas degradadas. A diversidade de espécies reintroduzidas visa recompor um mosaico funcional de ecossistemas, em que cada animal contribui para o equilíbrio e a regeneração natural dos ambientes.
Um dos grandes diferenciais do modelo argentino é seu forte componente de engajamento comunitário. A Fundación Rewilding Argentina trabalha com educação ambiental, formação de guias turísticos locais, incentivo a empreendimentos de base comunitária e geração de empregos ligados à conservação. Escolas, cooperativas, ONGs e prefeituras são envolvidas em oficinas, capacitações e processos de decisão. Essa abordagem tem contribuído para reduzir resistências e construir alianças duradouras com a população local.
A economia regional também tem sido positivamente impactada. O aumento no número de visitantes estimulou o crescimento de pousadas, restaurantes e serviços ligados ao turismo de natureza. Estudos apontam que esse dinamismo econômico tem favorecido a valorização da fauna nativa e o reconhecimento da conservação como um ativo estratégico de desenvolvimento sustentável (Donadio, Zamboni & Di Martino, 2022).
Contudo, o projeto enfrenta desafios. Um dos principais é garantir conectividade ecológica em uma paisagem fragmentada por propriedades privadas e monoculturas. Também há riscos de isolamento genético das populações reintroduzidas, o que exige planejamento genético e corredores funcionais. Além disso, o projeto depende de financiamento contínuo e da estabilidade política para manter suas atividades a longo prazo.
Mesmo com essas limitações, o Projeto Iberá tornou-se uma referência internacional. Ele demonstra que o rewilding pode ser uma estratégia viável e ética quando combinada com ciência, engajamento social e compromisso com a restauração ecológica. Sua experiência amplia os horizontes do rewilding no Sul Global, apontando caminhos possíveis para uma conservação inovadora, inclusiva e ancorada na valorização da biodiversidade nativa.
6. Controvérsias e desafios éticos
Apesar do potencial ecológico, o rewilding é alvo de controvérsias. Questões centrais incluem sua definição imprecisa, o uso de espécies substitutas e a proposta de desextinção por engenharia genética (Jørgensen, 2015; Sherkow & Greely, 2013).
A prática da ecossubstituição, como no uso do gado Heck para simular auroques, bem como do recriado Taurus, levanta dilemas sobre autenticidade ecológica. A desextinção, por sua vez, pode reduzir a urgência na proteção de espécies vivas e banalizar os riscos envolvidos na biotecnologia aplicada à conservação.
Críticas também recaem sobre projetos que desconsideram as populações locais. Em algumas regiões, o rewilding foi implementado sem diálogo, afetando modos de vida tradicionais. O fenômeno conhecido como “green grabbing”- apropriação de terras sob a justificativa da conservação, evidencia esse risco (Fairhead, Leach & Scoones, 2012).
Para ser socialmente justo, o rewilding deve respeitar direitos territoriais e saberes locais, adotando governança participativa e distribuindo de forma equitativa os benefícios da conservação (Glentworth, Gilchrist & Avery, 2024).
Além dos dilemas éticos, há barreiras práticas: fragmentação de habitats, conflitos de uso da terra e mudanças climáticas impõem limites à restauração ativa. Ainda assim, o rewilding obriga a repensar a conservação como um processo político, ecológico e moral em constante negociação.
7. Conclusão
O rewilding representa mais do que uma estratégia técnica: é uma proposta transformadora, que desafia pressupostos consolidados sobre o papel humano nos ecossistemas e propõe uma reconciliação possível entre natureza e cultura. Ao focar na restauração de processos — e não apenas na preservação de espécies — o rewilding amplia as fronteiras da ecologia aplicada. Ele não opera como retorno nostálgico a uma natureza idealizada, mas como visão orientada ao futuro, em que biodiversidade e resiliência se tornam respostas às crises do Antropoceno.
Casos como Yellowstone, Rewilding Europe e Projeto Iberá mostram que o rewilding pode recuperar funções ecológicas críticas, impulsionar economias locais e fortalecer vínculos entre comunidades e natureza. Mas seu sucesso depende da articulação entre ciência, governança inclusiva e sensibilidade cultural.
O rewilding só poderá consolidar-se como horizonte de transformação se dialogar com as desigualdades socioambientais. Isso significa evitar modelos excludentes e reconhecer que a regeneração ecológica deve caminhar com justiça social e reparação histórica. As próximas décadas serão decisivas para consolidar o rewilding como instrumento estratégico dentro de agendas como a Década da Restauração de Ecossistemas da ONU (2021-2030). Para isso, será preciso investir em ciência aplicada, construir marcos legais e envolver ativamente as comunidades locais.
Não tratar a natureza como objeto a ser protegido, mas como um ecossistema no qual os humanos fazem parte, trata-se de uma mudança de paradigma. Restaurar o selvagem é restaurar a capacidade de imaginar futuros mais vivos, diversos e interdependentes — e essa talvez seja sua contribuição mais importante.
Referências
BESCHTA, R. L.; RIPPLE, W. J. (2016). Riparian vegetation recovery in Yellowstone: The first two decades after wolf reintroduction. Biological Conservation, 198, 93–103. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.03.031
CRISTALDO, M. A.; LÓPEZ GONZÁLEZ, C. A.; CRAWSHAW JR., P. G. (2023). The return of the jaguar: Early results from the reintroduction program in the Iberá wetlands, Argentina. Oryx, 57(1), 128–135. Disponível em: https://doi.org/10.1017/S0030605322000540
DONADIO, E.; ZAMBONI, T.; DI MARTINO, S. (2022). Rewilding case study. In: Hawkins, S. et al. (org.). Routledge Handbook of Rewilding. Londres: Routledge. Disponível em: https://doi.org/10.4324/9781003097822-19
FAIRHEAD, J.; LEACH, M.; SCOONES, I. (2012). Green grabbing: A new appropriation of nature? The Journal of Peasant Studies, 39(2), 237–261. Disponível em: https://doi.org/10.1080/03066150.2012.671770
GRAZELANDS REWILDING (2025) Het Tauros Programma. https://grazelandsrewilding.com/tauros-programma/
GLENTWORTH, J.; GILCHRIST, A.; AVERY, R. (2024). The place for people in rewilding. Conservation Biology, 38(6), e14318. Disponível em: https://doi.org/10.1111/cobi.14318
JØRGENSEN, D. (2015). Rethinking rewilding. Geoforum, 65, 482–488. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2014.11.016
MATOS, A. & CARVALHO, T.P. (2025) “Desextinção” do lobo-terrível: um feito “longe da ficção” ou uma “simplificação”? National Geographic Portugal. https://www.nationalgeographic.pt/ciencia/desextincao-do-lobo-terrivel-um-feito-longe-da-ficcao-simplificacao-miguel-araujo-opiniao-homenagem-genetica_5960
NAVARRO, L. M.; PEREIRA, H. M. (2015). Rewilding abandoned landscapes in Europe. In: PEREIRA, H. M.; NAVARRO, L. M. (org.). Rewilding European Landscapes. Dordrecht: Springer, p. 3–23. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-12039-3_1
NIE, M. A. (2003). Beyond wolves: The politics of wolf recovery and management. Minneapolis: University of Minnesota Press.
RIPPLE, W. J.; BESCHTA, R. L. (2012). Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction. Biological Conservation, 145(1), 205–213. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.11.005
SHERKOW, J. S.; GREELY, H. T. (2013). What if extinction is not forever? Science, 340(6128), 32–33. Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.1236965
SVENNING, J.-C. et al. Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future directions for trophic rewilding research. PNAS, v. 113, n. 4, p. 898–906, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.1502556112
SOULÉ, M. E.; NOSS, R. F. (1998). Rewilding and biodiversity: Complementary goals for continental conservation. Wild Earth, 8(3), 19–28. Disponível em: https://rewilding.org/wp-content/uploads/2012/04/RewildingBiod.pdf
in EcoDebate, ISSN 2446-9394
[ Se você gostou desse artigo, deixe um comentário. Além disso, compartilhe esse post em suas redes sociais, assim você ajuda a socializar a informação socioambiental ]